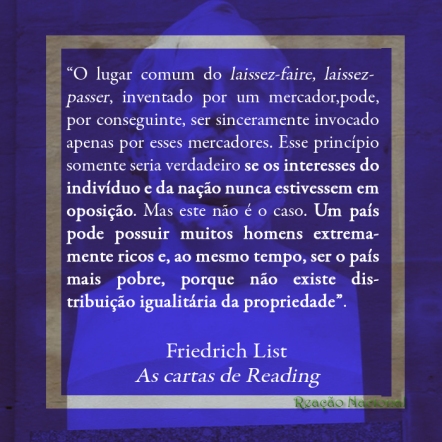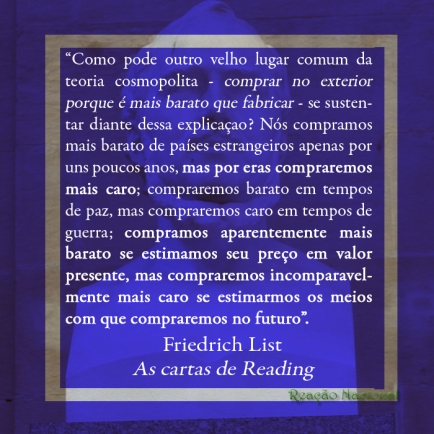Arthur Rizzi*
Não é que eu não acredite em livre-mercado, na verdade eu acredito e acho que deve ser sim a condição dominante em uma economia. Entretanto, nem sempre o livre-mercado é a resposta para tudo. E nestas circunstâncias a intervenção do Estado se justifica. E isso não tem nada de socialista, antes que algum católico embebido por espíritos liberais da nova direita venha erguer sua voz. Quem o diz é o próprio Papa Paulo VI em “Populorum progressio“.
A livre-troca já não pode, por si mesma, reger as relações internacionais. As suas vantagens são evidentes quando os países se encontram mais ou menos nas mesmas condições de poder econômico. […] Já o mesmo não acontece quando as condições são demasiado diferentes de país para país: os preços “livremente” estabelecidos no mercado podem levar a situações iníquas. […] Devemos reconhecer que está em causa o princípio fundamental do liberalismo como regra das transações comerciais.
Neste magnífico desenvolvimento da Doutrina Social da Igreja, o papa Paulo VI estava tratando do comércio internacional. Não que a Igreja fosse contra, ao contrário, estimula-o, mas dentro de certas diretrizes de justiça moral e distributiva! E isso, como pode se ver, tem toda relação com uma discussão sobre comércio internacional que data do fim século XVIII e início do XIX pelo menos.
A fisiocracia – que cometia um erro técnico em relação ao indústria, apesar de guardar um aristocrático zelo moral – inaugura a era segundo a qual o livre flutuar de preços, e as baixas taxas alfandegárias seriam a chave da prosperidade. No Tableau Economique, François Quesnay teve um insight importante sobre as vantagens que o livre comércio traz, sobretudo ao homem de terras. Essa constatação importante, porém, foi generalizada por Adam Smith no livro “A Riqueza das nações“, aplicando-a também à indústria. O pai da economia clássica veria seu desenvolvimento teórico ser aprofundado por David Ricardo, no que ficou conhecido como teoria das vantagens comparativas. Em curta sentença, a afirmativa desta doutrina é que um país muito eficiente numa área e pouco eficiente em outra, deveria se concentrar em produzir bens e serviços na área em que é eficiente, e adquirir a preços mais baixos no mercado os produtos de que necessita, mas dos setores cuja sua indústria não é eficiente.
Assim, Ricardo compara Portugal e a Inglaterra. A Inglaterra tinha poderosas manufaturas, mas sua produção de vinho era pífia. Portugal, por sua vez, tinha deficiências graves em desenvolver suas manufaturas, porém o vinho do Porto era inconfundível e sua fama e qualidade inegáveis. Para Ricardo, se cada país se focasse na sua vantagem comparativa (naquilo em que é melhor) e comerciassem o resto, seriam mutuamente beneficiados. Jean-Baptiste Say não tardou a apoiar esta visão.
Não tardou, porém, a essa visão sofrer severas críticas. Alexander Hamilton, secretário do tesouro americano, entendia que pelos favorecimentos e subsídios dados pelos Estados das nações ricas (como a Inglaterra) às suas manufaturas, e pelo tempo que elas tiveram para crescer e se estabelecer no mercado mundial, bem como as possibilidades aumentadas de divisão do trabalho quando em comparação com a agricultura, que o livre-comércio não era uma boa medida para as nações novas, desindustrializadas e em busca de consolidar sua independência. Por esta razão, em seu “Relatório sobre as manufaturas”, Hamilton recomendou que o norte se desenvolvesse o potencial industrial, dado que era fraco para a agricultura e o sul, cujo clima era mais quente, deveria se concentrar em sua vantagem comparativa, a agricultura. A visão hamiltoniana abarcava as vantagens comparativas dentro de um sistema nacional. Hamilton ganhou o apoio do economista alemão Friedrich List, que como um dos arautos do protecionismo, desenvolveu sua teoria no livro “Sistema nacional de economia política“.
Tanto na obra, quando nas defesas que fez da sua tese como nas famosas “Cartas de Reading“, List defende que a economia clássica e o liberalismo econômico são hipóteses válidas do ponto de vista do indivíduo e de uma hipotética economia global, ou cosmopolita. Só que como ele mesmo lembra, a humanidade acha-se dividida em nações, e em condições desiguais, de forma que seria ingênuo esperar que o livre-comércio seja vantajoso à todos em todas as condições. Enquanto os interesses do indivíduo são bastante reais, tanto quanto às de um Estado (caso contrário não existiria a ciência da geopolítica), a ideia de uma economia globalista é apenas um delírio que nem alguns globalistas gostam [1]. Sendo os interesses do indivíduo e dos Estados reais, é bastante comum e normal que o interesse de alguns indivíduos se contraponham aos interesses da coletividade. E, assim, List lembra-nos do preço caro que a nação pode incorrer em deixar-se criar pelo laissez faire, laissez passer.
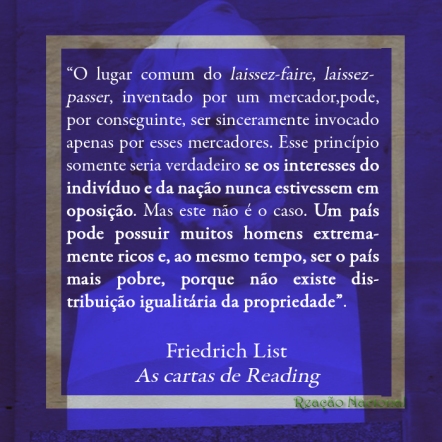
Essas posições acima relatadas se desenvolvem em várias outras, sempre mais modernas, incorporando novos dados empíricos, novos modelos econométricos, mas sempre conservando em seu interior o mesmo edifício lógico. De um lado, os que argumentam que o livre-mercado é bom e sempre desejável em toda e qualquer circunstância, do outro aqueles que mais ou menos reconhecem limites à eficiência do mercado. Assim, passamos por variados modelos como o de Samuelson, o modelo ordoliberal, o modelo CEPALino, o modelo Hecksher-Ohlin, a New Trade Theory, enfim. Algumas mais livre-mercadistas a ponto de serem consideradas plenamente liberais, com apenas alguns poréns em circunstâncias muito específicas. Outras muito mais restricionistas e claramente anti-liberais.
A Igreja e a economia hoje.
A Igreja, sem se comprometer com ambos os lados aceitou uma posição intermediária dessas, a de que o mercado é bom e desejável quando ele oferece vantagens mútuas, e que onde isso ocorra naturalmente, tanto melhor, mas que onde isso não ocorra, deva haver algum grau de articulação política-estatal para estabelecer um comércio justo. Assim, a Igreja em consonância com sua tradição bimilenar, segue afirmando que para tudo há um preço justo.
Como Christopher Ferrara (2010, p.141) nota, a visão cristã do preço justo é distinta da visão liberal do preço de mercado: “In sum, the Catholic “social estimate” of the just price was not some free-floating, subjectively determined “market price” or negotiated spot price in the modern sense”. O preço justo deveria observar, segundo Ferrara (2010, p.143), outras questões, como por exemplo “the ability and capacity of the producers, the poverty of the region where the good is produced and the counsel of the righteous men”. Essa necessidade de observar as coisas de um ponto de vista mais coletivo em detrimento de um puramente individual, se dá por uma exigência do bem comum. E essa visão está muito mais próxima de uma mais restricionista em relação ao liberalismo econômico do que uma mais livre-mercadista. Essa mesma visão recebeu apoio de evidências empíricas muito importantes dos economistas contemporâneos.
Dani Rodrik (2011, p.19) mesmo cita um caso em que isso ocorre:
“Considere que um país que é bem provido de trabalhadores qualificados, como os Estados Unidos. Suponha que de repente se torne possível para esse país comercializar com outro país que seja bem provido de trabalhadores não qualificados, digamos a China, porque esta, por exemplo, liberaliza o seu regime comercial e por isso se torna um participante ativo do comércio internacional. Naturalmente, a China vai exportar produtos intensamente produzidos por mão-de-obra não qualificada para o mercado americano e, em troca, importar produtos de mão-de-obra altamente qualificada. Segundo a teoria, na medida em que as exportações chinesas substituírem parte da produção doméstica americana, isso vai resultar numa queda na demanda por trabalhadores não qualificados nos Estados Unidos“.
Só que como Rodrik nota (e Krugman também na sua NTT), isso não terá apenas efeitos apenas nos Estados Unidos ou em qualquer outro país desenvolvido. Mas também nos países em desenvolvimento. Assim como o trabalho menos qualificado perde espaço na indústria americana, as multinacionais ao entrarem no país em desenvolvimento, a não ser que haja uma política industrial sólida e bem planejada, tem grande chance de destruir a indústria local, mudando completamente a estrutura produtiva e até social do país – e esse é um dos efeitos mais revolucionários da globalização econômica promovida por espíritos liberais, a destruição das pequenas e médias empresas familiares, e mesmo da indústria de grande escala nacional, que tem elos com blood, soil and honour – por empresas que não tem qualquer responsabilidade última com o país que a abriga.
Ao destruir a indústria local, a mão-de-obra desse setor no país em desenvolvimento, será realocada para a produção nas multinacionais, ao passo que a mão-de-obra qualificada, não tendo espaço no seu país, será empregada e levada para o país desenvolvido, o país-metrópole dessa grande empresa, onde será empregado e receberá investimentos no aprimoramento de sua formação por parte das multinacionais e da universidades metropolitanas. Como consequência óbvia disso, ocorre o que se conhece por fuga de cérebros, onde jovens terceiro-mundistas estarão produzindo conteúdo, tecnologia e know how para serem patenteadas por empresas multinacionais.
Mesmo a vantagem relativa criticada por Rodrik na descrição deste fascículo, acaba por se tornar vantagem absoluta, pois o que o Estado subdesenvolvido arrecada com a atividade multinacional, acaba sendo suplantada a longo prazo pelas remessas crescentes de lucro ao exterior, o que provoca um desequilíbrio na balança comercial. O próprio domínio das multinacionais no mercado, fazem com que um aumento da demanda agregada corresponda ipso facto num aumento de remessa de lucro ao exterior por conta dessas empresas multinacionais serem muito representativas na oferta agregada. A emissão de moeda nacional ao exterior aprecia o câmbio que ajuda encarecer o custo unitário do trabalho, expulsando do mercado o que sobrou da indústria nacional em condição de competir, expulsando essa mão-de-obra ou para o setor de serviços e primário ou para as próprias multinacionais. Num cenário de aumento de exportação de primários, ocorre o que se chama nessa caso de doença holandesa. Delfim Netto (1966, p.37) explica-a:
“Quando a economia recebe o impulso dinâmico do setor externo, através da ampliação da procura de um produto exportável, ela tende a aplicar em tal setor uma parcela importante de seus recursos e, em breve, toda a economia funciona sob seus estímulos. Isto significa que a oferta de divisas no mercado de câmbio passa a depender essencialmente do volume das exportações e dos preços do produto exportado.”
Reféns
Como os empregos de mais qualidade desses países ficam nas mãos de grandes conglomerados internacionais, que não raro, senão na maioria da vezes, recebem suportes financeiros de bancos de desenvolvimento do país-metrópole, acaba que em alguma medida os Estados-nação menos desenvolvidos acabam reféns dos países de origem dessas empresas. Isso pode motivar, em cenários de crise posterior ou da emergência de um novo concorrente, que o país em desenvolvimento tome medidas protetivas a essas multinacionais, de forma que ele acabe por proteger cartéis estrangeiros, como é oc aso da indústria automobilística no Brasil. Nesta circunstância, a vantagem dos países desenvolvidos é absoluta, não relativa.
O lugar do livre-mercado:
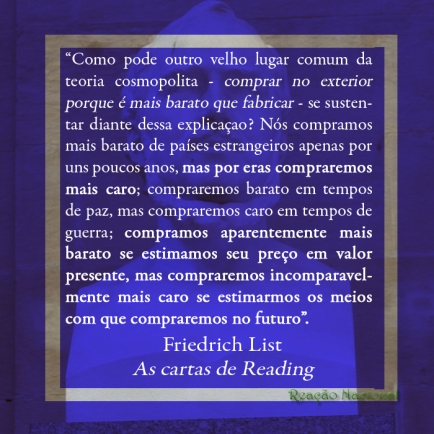
É claro que uma dose corajosa de livre-mercado permitindo a entrada de novos competidores num cenário desses pode ser um bom começo para se livrar dessas amarras, mas sem um desenvolvimento posterior de uma indústria nacional, o serviço estará incompleto, e aí voltamos a Friedrich List. A lógica listiana não desprezava o poder da competição de mercado, só dizia que ela era mais produtiva e benéfica se houvesse competição, e que, para que isso ocorra, pode ser que no curto prazo, seja mais interessante que o mercado não seja tão livre assim. Sabe quem mais acreditava que o mercado tinha um potencial teórico que só poderia ser melhor explorado com a ajuda do Estado? Os ordoliberais. Obviamente eles não eram protecionistas, não obstante isso, eles eram alemães. A indústria mais poderosa do mundo na sua época e um dos povos mais qualificados e disciplinados que se poderia ter àquela época, colocava a Alemanha exatamente na condição de país beneficiado pelo livre-comércio. Mas mesmo eles percebiam que o Estado deveria assegurar que os competidores não se devorassem vivos, fazendo com que onde houvesse monopólios, que eles deixassem de existir. E onde não fosse possível removê-los, que as empresas monopolistas agissem como se estivessem em competição de mercado. Para os ordoliberais de Freiburg o mercado era mais livre quando não era tão livre assim.
Para países de renda média como o Brasil, o Estado tem ainda outros deveres além destes elencados pelos ordoliberais. Ele deve tutelar alguns preços macroeconômicos justamente para que o Brasil se torne competitivo. Um exemplo sempre levantado pelos nossos pós-keynesianos é a taxa de câmbio. Contudo, não é necessário ser um heterodoxo para ver isso. O próprio Dani Rodik (2011, p.28), um neoclássico, lembra-nos disso:
“Qualquer país que deseje padrões de mão-de-obra mais elevados pode adquiri-los por sua própria conta, independentemente do nível dos padrões nos outros países, em uma das três maneiras seguintes. Primeiro, uma desvalorização da moeda pode ser utilizado para reduzir os custos domésticos em termos de moeda estrangeira, desse modo compensando a própria perda na competitividade. Segundo, pode haver um ajuste para baixo diretamente nos salários (o que é mais uma vez a questão da incidência). Terceiro, o governo pode arcar com o custo de padrões de mão-de-obra mais elevados, financiados mediantes um aumento nos impostos”.
Delfim Netto em entrevista ao Roda Viva dia 08/04 deu a entender que com a entrada na OCDE o veículo do câmbio estaria perdido. E provavelmente ele está certo. Mas ainda sobra o segundo. Minha proposta é um reajuste de salários setoriais que leve em consideração tanto a produtividade do setor como a inflação da cesta básica, uma subtraída pela outra, permitindo assim, reajustes para baixo caso a produtividade fique aquém da inflação. É impopular? É. Mas como dizem os marombeiros: No pain, no gain.
Nota de Rodapé:
[1] Paul Krugman no livro sobre a grande recessão de 2008 critica os infortúnios de uma moeda global.
Referências:
PAULO VI. Populorum progressio. Campinas: Paulinas, 2004.
RODRIK, Dani. A globalização foi longe demais? São Paulo: Editora Unesp, 2011.
LIST, Friedrich. Cartas da economia nacional contra o livre-mercado: As cartas de Reading. Capax Dei, 2008.
FERRARA, Christopher. The Chruch and the libertarian. Minnesota: The Remnant Press, 2010.
NETTO, Antônio Delfim. Planejamento para o desenvolvimento econômico. São Paulo: Editora da USP, 1966.
*Arthur Rizzi é formado em história pela UFES e é estudioso de história do pensamento econômico.